(Este texto é uma versão ampliada da apresentação do livro de Moishe Postone, Antissemitismo e nacional-socialismo)
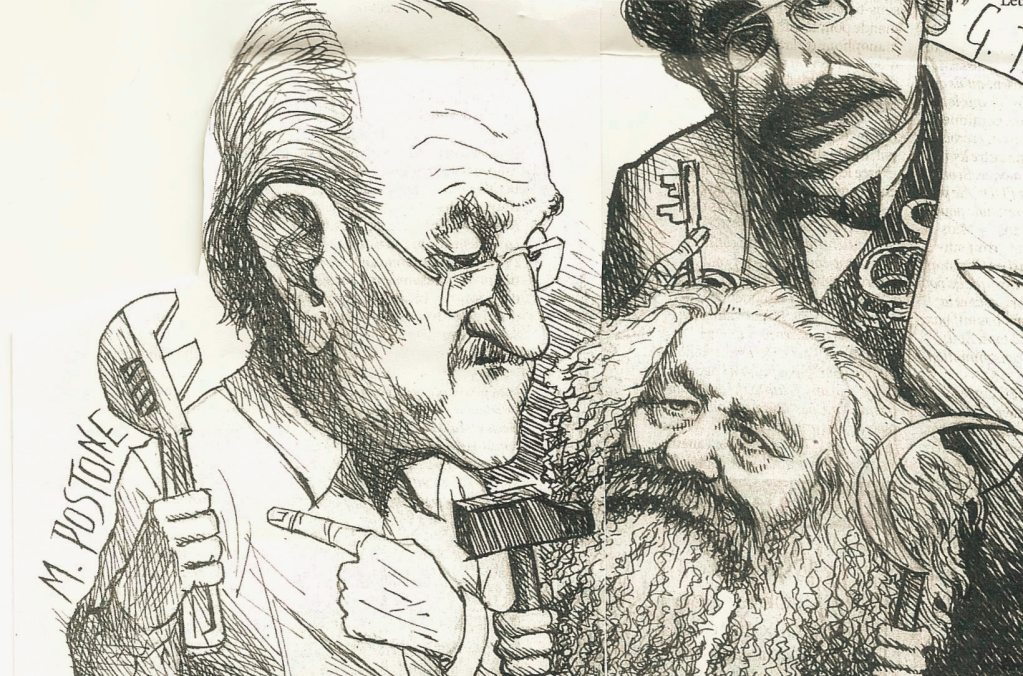
I
Em 1844, Marx travou uma polêmica a propósito da “questão judaica” com Bruno Bauer, seu antigo colega dos círculos hegelianos. Os artigos contra Bauer representam um momento importante na transição de Marx, de uma posição “filosófica” para a crítica dos fundamentos sociais das instituições políticas e religiosas. Bauer, pelo contrário, permanecia preso à crítica “pura”, concentrando-se no tema da alienação religiosa como obstáculo para a autoconsciência. Marx deixou-se influenciar inicialmente por essa “crítica radical”, que tomava a crítica da religião como “pressuposto de toda crítica”, mas, em 1843, quando redige os ensaios contra Bauer para os Anais fraco-alemães, a ruptura já estava consumada.
O primeiro desses ensaios, Sobre a questão judaica, contesta o ponto de vista apresentado por Bauer no ano anterior em um artigo sobre o mesmo tema.[1] Ateu e anticristão, Bauer definia a religião como “uma completa perda de si mesmo, somente superável por meio de uma total descristianização”.[2] Uma posição que ele tentou estender a Hegel, argumentando que a filosofia da religião deste último conduzia à destruição da teologia. Essa crítica reaparece no artigo sobre a questão judaica, que se desdobra no problema da exclusão política dos judeus pela religião de Estado durante o período de recomposição da Confederação Germânica. Ao adotar o cristianismo como religião oficial, os Estados alemães restringiam por decreto o exercício de funções públicas pelos judeus. Surgiu nesse contexto uma crescente demanda de liberdade política por parte das comunidades judias, que desejavam igualar seus direitos políticos aos dos outros alemães. “Lutando contra esta situação, os judeus encontraram-se objetivamente comprometidos na corrente geral contra as ordens políticas caducas instauradas na Alemanha, apesar das suas posições limitadas”.[3] É a propósito dessa limitação da reivindicação dos judeus que se dá a polêmica entre Bauer e Marx: “Bauer raciocinava assim: enquanto o Estado permanecer cristão, não pode atribuir direitos iguais aos judeus, que professam uma religião hostil ao cristianismo. Portanto, a emancipação política dos judeus pressupõe a supressão do Estado cristão. Mas, para obterem o seu pleno direito de lutar por esta supressão, os judeus devem renegar a sua religião. O ateísmo é a condição da emancipação política”.[4] A luta dos judeus contra os privilégios outorgados pelo Estado aos cristãos se esvazia aos olhos de Bauer como uma reivindicação particular, para se tornar parte de um problema universal. A emancipação política não seria possível a menos que judeus e cristãos renunciassem às suas religiões “exclusivistas”, favorecendo a assimilação dos primeiros ao Estado constitucional e fazendo do Estado uma esfera livre da influência religiosa.
A crítica de Marx a Bauer possui dois aspectos fundamentais, que se apresentam entrelaçados: a recusa da posição antirreligiosa do seu adversário e o problema mais geral dos limites da emancipação política no contexto da “miséria alemã”, i.e., no processo de desenvolvimento retardatário da Alemanha em relação às potências industriais daquela época.
Marx diverge totalmente de Bauer quanto à situação dos judeus nos Estados alemães: “Não afirmamos que eles [os judeus] devam primeiro suprimir sua limitação religiosa para depois suprimir suas limitações seculares. Afirmamos, isto sim, que eles suprimem sua limitação religiosa no momento em que suprimem suas barreiras seculares. Não transformamos as questões mundanas em questões teológicas. Transformamos as questões teológicas em questões mundanas”.[5] Essa posição de Marx já traduz uma nova atitude perante a religião, que não se contenta mais em mover-se criticamente no interior da teologia. A crítica da religião realizada pelos jovens hegelianos estava concluída, como disse Marx: “no caso da Alemanha, a crítica da religião chegou, no essencial, ao seu fim; e a crítica da religião é o pressuposto de toda a crítica”[6] – o que também se evidencia na posição compartilhada por alguns dos seus contemporâneos mais próximos.[7] Ela ainda podia ser um “pressuposto”, mas já não bastava “humanizá-la”, como em Feuerbach, nem simplesmente rejeitar a religião como uma alienação, como fez Bauer. Na mesma época em que redige Sobre a questão judaica, Marx chega à fórmula que abre caminho para uma nova crítica social: ele se volta não diretamente para a religião, mas para as condições sociais da consciência religiosa. A religião chega mesmo a aparecer como uma “necessidade”, o “soluço da criatura oprimida”, “o ópio do povo”.[8] A superação da consciência religiosa dependia, portanto, da superação das circunstâncias reais nas quais essa consciência é formada. Marx também mostra que a religião não é incompatível com o Estado constitucional, uma vez que os direitos humanos admitem “o direito de ser religioso”,[9] e cita como exemplo os Estados Unidos, cujos estados se emanciparam da religião, sem que esta deixasse de se manifestar como força social viva: “Se até mesmo no país da emancipação política plena encontramos não só a existência da religião, mas a existência da mesma em seu frescor e sua força vitais, isso constitui a prova de que a presença da religião não contradiz a plenificação do Estado”.[10]
Essa última constatação nos leva ao segundo aspecto da crítica de Marx: o limite da emancipação política, na qual Bauer se atém para superar a questão religiosa. Ocorre que essa solução política representa não uma solução prática da contradição entre religião e Estado, e muito menos a emancipação do homem real em relação à religião, mas apenas a separação entre esfera pública, o “interesse geral”, e o que Hegel chamou de “sociedade civil”, isto é, a esfera privada na qual os indivíduos atuam de acordo com seus interesses particulares. A emancipação política era, em outras palavras, a dissolução da velha ordem feudal e seus laços estamentais e de dependência pessoal; mas essa dissolução, diz Marx, ocorreu a partir da redução do homem a “indivíduo egoísta independente”, de um lado e, de outro, ao “cidadão” do idealismo do Estado.[11] Aqui o homem ganhou apenas o direito à religião na esfera privada: “o homem se emancipa politicamente da religião banindo-a do direito público para o direito privado”[12], quando a religião deixa de ser o “espírito do Estado” e se converte no “espírito da sociedade burguesa”, que é também a “esfera do egoísmo” e da guerra de todos contra todos. Para não se mover mais no interior da teologia, a crítica precisa mirar não o Estado cristão, como queria Bauer, mas o “Estado como tal”. É justamente onde ocorre o pleno desenvolvimento do Estado político, cujo exemplo mais vivo era a “América do Norte”, que a crítica pode se voltar direitamente contra esse Estado, dissipando a confusão entre a parcialidade da emancipação política e o caráter geral da emancipação humana. A primeira constitui apenas a “forma definitiva” da emancipação no interior da ordem burguesa, não a emancipação propriamente dita.
De volta à questão judaica, prossegue Marx: “Não estamos, portanto, dizendo aos judeus, como faz Bauer: não podeis vos tornar politicamente emancipados sem vos emancipar radicalmente do judaísmo. Estamos lhes dizendo, antes: pelo fato de poderdes vos emancipar politicamente sem vos desvincular completa e irrefutavelmente do judaísmo, a emancipação política não é por si mesma a emancipação humana”.[13] Do mesmo modo como não basta o fim da religião de Estado para que a consciência religiosa desapareça, também as contradições sociais do mundo burguês não encontram uma solução na mera separação entre a esfera pública ideal e a esfera dos interesses privados concorrentes. Esta última é sempre mais real, pois é onde se dá a “existência sensível individual”.[14] A conclusão de Marx, no final do primeiro artigo é que, ao tomar o homem como uma abstração, o cidadão, a emancipação política libera o espírito egoísta da sociedade burguesa, o seu “materialismo”, que se expressa nos direitos do homem egoísta, separado dos outros homens, ou seja, as liberdades de propriedade, de comércio e, também, de religião. A verdadeira comunidade humana é reconhecida apenas em termos abstratos, na esfera dos direitos, enquanto a sociedade se dissolve na prática em indivíduos independentes. Cada uma dessas mônadas sociais enxerga nos demais um limite para a sua liberdade individual, nunca a realização da comunidade dos indivíduos. Daí que “a emancipação humana só estará plenamente realizada quando o homem individual real tiver recuperado para si o cidadão abstrato e se tornado ente genérico na qualidade de homem individual na sua vida empírica, no seu trabalho individual, nas suas relações individuais, quando o homem tiver reconhecido e organizado suas ‘forces propres’ [forças próprias] como forças sociais e, em consequência, não mais separar de si mesmo a força social na forma da força política”.[15]
II
O segundo artigo publicado por Marx é um breve comentário acerca do texto de Bauer intitulado A capacidade de os atuais judeus e cristãos se tornarem livres, que retoma o problema da ruptura com a formulação puramente teológica da questão judaica, ainda que tivesse como pressuposto o programa iluminista de superação de toda mentalidade religiosa. Marx ocupa-se aqui não da essência abstrata do judeu, a sua religião, mas do judeu secular, “real”, a sua essência prática. Esse é, sem dúvida, um dos escritos mais polêmicos de Marx, redigido quando ele contava apenas 25 anos e que levantou contra o seu autor inúmeras acusações de antissemitismo. Ao colocar em um novo plano a relação entre ideias e formas sociais, Marx deu os primeiros passos para a superação da “ideologia alemã”; por outro lado, sua descrição dessas formas sociais reais ainda estava fortemente marcada pelo ambiente intelectual dessa mesma ideologia, onde metáforas antissemitas não eram de forma nenhuma incomuns. Em algumas passagens bem conhecidas de Sobre a questão judaica, Marx adotou a linguagem polêmica que circulava nesse ambiente – e, mesmo em sua obra madura, não se afastou inteiramente dela.[16] O “domínio do dinheiro” foi simplesmente identificado com o judaísmo, e esse domínio funcionava como uma definição da essência da sociedade burguesa: “identificamos, portanto, no judaísmo um elemento antissocial universal da atualidade”.[17] Em outra passagem bem conhecida, lê-se: “Qual é o fundamento secular do judaísmo? A necessidade prática, o interesse próprio. Qual é o culto secular do judeu? O regateio [Schacher].[18] Qual é o seu deus secular? O dinheiro”. O dinheiro é o deus que transforma tudo em mercadoria, o “valor universal” que despoja o mundo do seu “valor singular”.[19]
Essas passagens serviram de base para muitas acusações. É o caso de uma edição em língua inglesa dos textos de Marx publicada com o título distorcido “A world without jews”. Mesmo alguns dos biógrafos simpáticos a Marx se mostram desconfortáveis com essa questão. Para David Mcllelan “uma leitura rápida e irrefletida, particularmente da segunda seção mais breve [de Sobre a questão judaica], deixa uma má impressão”.[20] Em seguida, ele contrasta essa má impressão com a atitude favorável de Marx em relação à comunidade judaica de Colônia, mas o faz sem fornecer uma explicação adequada da posição teórica de Marx. Outro biógrafo, Francis Wheen, diz: “É verdade que Marx pareceu aceitar a caricatura dos judeus como agiotas inveterados”,[21] e justifica tal atitude com o argumento de que “quase todos” os contemporâneos de Marx identificavam o judeu com o comércio e o dinheiro com o judaísmo. Gareth Stedman Jones, por sua vez, não esconde o “uso estouvado e acrítico de imagens antissemitas”[22] e critica a “analogia forçada” que vê na figura do “judeu real” uma metáfora da prática cotidiana da sociedade burguesa. Jones acrescenta: “Quando já estabelecido em Paris e familiarizado com o discurso do socialismo republicano francês, Karl abandonou a terminologia do ‘judeu’ e adotou a noção mais ampla de ‘burguês’”.[23] Em todo caso, é preciso separar a terminologia empregada por Marx e uma atitude francamente antissemita, como a que foi usada, por exemplo, pelo socialista francês P-J. Proudhon, em cuja caderneta de 1847, publicada nos anos 1960, ele se referia aos judeus como a “raça que envenena tudo”, como os “inimigos da humanidade”, e pede a expulsão dos judeus na França, junto com a abolição da sua religião.[24] Uma diferença essencial entre os dois é que, por mais inadequada que seja a formulação de Marx, ela não particulariza os judeus, mas expande a sua “essência prática” para a sociedade burguesa como um todo. O judeu torna-se, então, uma simples manifestação particular do “judaísmo”, que é identificado com a dominação geral do dinheiro. Marx, como vimos, também não faz um ataque à religião dos judeus; ao contrário, ele defende a superação da consciência religiosa (não apenas judaica) a partir da superação dos seus fundamentos práticos.
Tais distinções não significam que não há uma aproximação desconfortável de Marx com a caracterização antissemita da sociedade burguesa e que a referência ao “judaísmo” como sinônimo dos aspectos negativos dessa sociedade correria apenas o risco de uma recaída na posição teológica que o próprio Marx criticou em Bauer, como argumenta Daniel Bensaïd em seu longo comentário ao texto de 1844: “Deixando de lado qualquer mediação histórica e social, a aproximação grosseira entre judaísmo e dinheiro corre efetivamente o risco de provocar uma recaída no quadro teológico, que Marx exige, ao contrário, suprimir”.[25] Essa argumentação serve apenas para contornar o problema, pois Marx deixa claro que já não se trata da religião, mas da sua “essência prática”, contra a qual o judeu e a sociedade como um todo teriam de se voltar. O que se manifesta em sua “forma pura” na consolidação do Estado político é o fundamento secular do judaísmo. Do mesmo modo, quando Marx, referindo-se novamente aos Estados Unidos, fala da “dominação prática do judaísmo sobre o mundo cristão”,[26] ele destaca não a “essência abstrata” do judeu e sim o fato de que naquele país, a pátria dos negócios, até “a proclamação do evangelho e o ministério cristão se transformaram em artigo de comércio”.[27] Esse problema, que é central no argumento de Marx entre 1843-44, não pode ser elucidado como uma simples recaída no debate teológico e muito menos como produto do atraso da cultura política alemã em relação ao “ambiente” revolucionário parisiense (o que fica claro no exemplo de Proudhon). Ele precisa, antes, ser decifrado como um momento de uma crítica truncada do capitalismo, na qual a análise da esfera da produção capitalista é substituída pela crítica reduzida à esfera da circulação – ou, mais precisamente, a crítica reducionista é apenas um primeiro momento, ainda fortemente ideológico, da crítica do capitalismo. O que está ausente em Marx no contexto em que ele aborda a questão judaica é precisamente o conceito de capital, por meio do qual ele vai superar essa posição que limita as contradições da “sociedade burguesa” ao domínio do dinheiro e que o aproxima perigosamente da visão de mundo antissemita corrente naquela época.
Isso significa que, em virtude da identificação secular do judeu com o dinheiro, a crítica da sociedade fixada na esfera da circulação tende a ganhar a forma de uma defesa do “trabalho honesto” contra o “capital rapinante”. Em seu Behemoth, que analisa a estrutura do nacional-socialismo, Franz Neumann já havia apontado como o anticapitalismo “especificamente germânico” seguia os passos de Proudhon na denúncia exclusiva do “capital rapinante”.[28] E também a socialdemocracia alemã cedeu a essa visão ao apontar a supremacia dos bancos sobre a indústria, como se alguns bancos controlassem toda a produção social.[29] Marx, por outro lado, nunca aderiu a essa visão limitada, pois seus textos de juventude já contêm uma crítica da alienação do trabalho; mas é somente com o desenvolvimento da sua crítica da economia política que ele vai superar o ponto de vista fixado na circulação, que ainda aparece no texto de 1844 como o domínio do dinheiro sobre a sociedade. Essa superação será concretizada, na obra madura de Marx, pela crítica da esfera da produção capitalista a partir do conceito de “trabalho abstrato”.
III
O nexo entre a concepção truncada do capitalismo e o sentimento antijudaico propagado até mesmo pela ala mais progressista do pensamento alemão em meados do século XIX foi interpretado quase exclusivamente a partir da identificação ideológica entre o judeu e o dinheiro. Essa ideologia, segundo algumas das explicações mais tradicionais, é que teria se tornado explosiva na crise dos anos 1920-30.[30] Tal explicação está fortemente ligada às condições do capitalismo liberal e a um contexto social ainda impregnado pela mentalidade religiosa. Ela permanece, assim, sem uma compreensão do papel desempenhado pelo antissemitismo no século XX. No final do século XIX, porém, a ideologia antissemita européia – especialmente a alemã – assumiu uma nova qualidade, que em poucas décadas resultou no programa inédito de extermínio planejado do povo judeu. Um passo decisivo para a explicação desse fenômeno foi dado por Moishe Postone em Antissemitismo e Nacional-Socialismo, publicado em 1982.[31] Postone apresenta nesse ensaio uma formulação original sobre a natureza do antissemitismo moderno, que é pensado a partir das categorias da obra madura de Marx, ou seja, em um quadro teórico muito distinto daquele que aparece no texto de 1844 sobre a questão judaica. Essa formulação, por sua vez, foi possível graças a uma nova leitura da teoria de Marx que aponta para uma reinterpretação fundamental de sua crítica do capitalismo.
Desde o final da década de 1970, Postone desenvolveu duas linhas de investigação que se cruzam precisamente na sua interpretação do Holocausto. A primeira – iniciada em 1978, com o ensaio Necessidade, trabalho e tempo[32]– o levou a uma reformulação do modo como deve ser compreendida a crítica de Marx ao capitalismo.[33] O cerne da crítica de Postone à tradição marxista é que ela interpretou a obra de Marx a partir de uma noção reduzida de capitalismo, definido como uma combinação de economia de mercado e propriedade privada dos meios de produção. Essa definição não questiona a forma historicamente específica da produção capitalista e, contra a visão que faz de si mesma, permanece limitada a uma crítica das relações de distribuição no interior do capitalismo. Isso resulta em uma crítica do capitalismo do ponto de vista do trabalho e não, como em Marx, na crítica do trabalho no capitalismo. Postone também resgata uma dimensão fundamental da teoria madura de Marx que consiste em ver a sociedade moderna como um modo de vida baseado em formas quasi-objetivas de dominação. Também aqui ele se distancia da ênfase na personificação das relações sociais – “relações de exploração de classe” – nas interpretações marxistas tradicionais. Nesse sentido, o traço distintivo do capitalismo em relação às sociedades anteriores, baseadas em formas diretas (pessoais) de dominação e de exploração, é a forma historicamente específica de mediação social pelo trabalho. Mesmo sendo produzida socialmente, essa mediação assume progressivamente um caráter abstrato e impessoal, conforme as relações capitalistas avançam sobre as formas sociais tradicionais e revolucionam a estrutura produtiva com base na Grande Indústria. Essa reinterpretação da teoria de Marx conduz então a uma redefinição da relação entre a mediação social específica do capitalismo e as formas de objetividade e subjetividade sociais.[34] Tudo isso terá implicações decisivas para a análise crítica dos desdobramentos cultural-simbólicos e ideológicos do desenvolvimento capitalista.
A segunda linha de investigação de Postone tem início também na década de 1970, período em que o autor viveu em Frankfurt e travou contato com a política judaica de esquerda.[35] Ela aborda o antissemitismo moderno – e os seus desdobramentos catastróficos na primeira metade do século XX – a partir das categorias do capital e da mercadoria. A teoria crítica madura de Marx foi pensada como uma teoria do capital, i.e., uma teoria das relações de produção. Nela, o trabalho é visto como a forma historicamente específica de mediação social do capitalismo. Marx jamais retornou ao tema do escrito de 1844, ainda marcado pela ideia de um “domínio do dinheiro”. Sua análise do capital avança no sentido de uma teoria das formas abstratas de dominação baseadas nas relações de produção (no “trabalho abstrato”). Em sua interpretação do antissemitismo moderno, Postone também não se contenta com uma explicação baseada na mera identificação do “judeu real” com o dinheiro e a esfera da circulação em geral. Ele parte dos conceitos de capital e de mercadoria como formas sociais e das implicações do desenvolvimento objetivo dessas formas em termos de construções ideológicas. Postone também distingue o antissemitismo moderno e a perseguição aos judeus ainda baseada fundamentalmente em tradições religiosas (uma distinção que já havia sido elaborada em outro contexto por Hannah Arendt).
É preciso “uma mediação muito mais determinada”, diz Postone, para apreender a natureza do antissemitismo que tomou forma no século XX e sua relação com o programa de extermínio posto em prática pelo Nacional-Socialismo. Seu ponto de partida é o avanço das formas abstratas de dominação – na Alemanha isso ocorreu no final do século XIX, como um processo de “modernização recuperadora” – e o modo como elas foram percebidas em meio à dissolução dos contextos sociais tradicionais. O antissemitismo moderno indica a existência de uma tensão entre formas modernas e tradicionais de socialização decorrente da modernização no interior das sociedades ocidentais avançadas. Por isso ele deve ser analisado a partir das contradições constitutivas do capitalismo, ao contrário das tentativas de reduzi-lo a uma ideologia secundária ou à lógica secular do “bode expiatório”. Para explicar os efeitos ideológicos dessa ruptura com as formas sociais tradicionais, Postone retoma um elemento central da teoria crítica de Marx: sabe-se que o “duplo caráter” do trabalho determinado pelo capitalismo constitui uma forma de socialização marcada pela tensão permanente entre o concreto e o abstrato.[36] Embora as dimensões concreta e abstrata sejam ambas constitutivas da relação capitalista – na teoria de Marx, isso corresponde à oposição entre “valor” e “valor de uso” da forma-mercadoria -, elas aparecem de modos diferentes e contrapostos: como uma oposição entre o dinheiro “abstrato” e a objetualidade do trabalho e da mercadoria. A imposição do capitalismo como forma geral das relações é um processo material-concreto de abstratificação das relações sociais. Ao se estabelecer como a forma geral das relações, o capitalismo produz uma ampla desestruturação dos contextos sociais tradicionais e um desenraizamento dos indivíduos em relação aos antigos papéis sociais. O antissemitismo moderno apreende essa nova época de crise como se ela resultasse da consolidação do poder do dinheiro. O dinheiro pode aparecer, assim, “como o único repositório do valor, como a manifestação do puramente abstrato, e não como a forma manifesta exteriorizada da dimensão de valor da própria mercadoria”.[37] Desse modo, a partir do hábito há muito assentado de associar os judeus com o dinheiro, eles passaram a encarnar o processo de abstração como tal, em oposição ao “trabalho” ou à “mercadoria”, que aparecem como processos naturais vinculados às necessidades concretas.
O antissemitismo moderno começa então a ganhar contornos de uma visão de mundo abrangente. Ele se tornou uma ideologia reativa que atribuía aos judeus um enorme poder “por trás” das transformações do capitalismo: “os judeus já não são considerados meramente os possuidores do dinheiro, como sucedia no antissemitismo tradicional, mas antes responsabilizados pelas crises econômicas e identificados com o espectro de reestruturação e desarticulação sociais que resultam de uma rápida industrialização”.[38] Eles se transformam na personificação de uma força “misteriosamente intangível, abstrata e universal”.[39] Não se trata, é claro, de uma identidade imediata entre o judeu e o abstrato, mas do modo como o declínio das antigas relações agrárias e estamentais foi percebido e elaborado em termos ideológicos. Esse contexto difícil de apreender assume nas teorias conspiratórias a forma de um poder oculto e forte o suficiente para manipular as estruturas sociais. “É não apenas o grau, mas também a qualidade do poder atribuído aos judeus que distingue o antissemitismo de outras formas de racismo. Provavelmente, todas as formas de racismo atribuem um poder potencial ao Outro. Esse poder, contudo, é usualmente concreto, material ou sexual. É o poder potencial do oprimido (como reprimido), dos “Untermenschen” (“sub-humanos”). O poder atribuído aos judeus é muito maior e é percebido como real em vez de potencial”.[40] Ele se diferencia, assim, das formas racistas de discriminação que rebaixam os povos colonizados pelo Ocidente – e mesmo os povos das regiões agrárias da Europa – a uma condição de inferioridade. Nem no contexto específico alemão, nem no âmbito mais geral do colonialismo europeu essas formas de racismo evoluíram para um programa de extermínio.
O antissemitismo moderno gerado nesse processo de crise também se nutria de uma crítica romântica do capitalismo ligada à valorização do concreto, da natureza, da sensibilidade, da comunidade, por oposição ao universalismo abstrato da forma-mercadoria. Postone caracteriza assim o nazismo como parte de uma revolta anti-burguesa contra os efeitos da modernização, mas que permanece presa nas antinomias do capitalismo. Além da denúncia do dinheiro-judeu, tal revolta se baseava numa hipostasia do concreto. No entanto, por mais que sejam bem conhecidas as associações das ideias nazistas com uma concepção “orgânica” da sociedade, elas não são devidamente explicadas com referência ao núcleo fundamental do capitalismo. Trata-se, antes de tudo, do modo como o capital é apreendido em termos ideológicos: quanto mais avança a sua dominação, mais a oposição entre as dimensões “concreta” e “abstrata” da forma da mercadoria e do valor é resolvida por meio da externalização da primeira, que é a sua forma aparente mais imediata. Isso explica “o porquê de o antissemitismo moderno, que se opôs a tantos aspectos da ‘modernidade’, ser claramente omisso, ou até favorável, no que se refere ao capital industrial e à tecnologia moderna”.[41] A dimensão material-concreta do capitalismo, a despeito do papel decisivo da industrialização na desestruturação das relações tradicionais, pode então ser compreendida como “não capitalista”, ao mesmo tempo em que o seu caráter abstrato, o único que é visto como realmente capitalista, torna-se algo cada vez mais “misterioso” e “ameaçador”. Nessa crítica fetichista da sociedade burguesa, o processo social que dissolve tudo no valor de troca encontra finalmente a sua referência palpável na figura do judeu. Este aspecto decisivo do antissemitismo moderno, que ultrapassa o antagonismo entre capital produtivo e capital “rapinante”, foi resumido por Postone: “os judeus foram identificados não apenas com o dinheiro, com a esfera da circulação, mas com o próprio capitalismo”.[42]
Essa identificação dos judeus com o capitalismo é a chave para a compreensão do programa de extermínio total realizado pelo Nacional-Socialismo. Essa forma irracional de revolta anticapitalista alimentada pela crise que se seguiu à Primeira Guerra Mundial também fez parte de um processo mais amplo de transição do capitalismo liberal para um capitalismo burocrático. No entanto, nem a crise, nem a mudança geral dos padrões tecnológicos e burocráticos são suficientes para explicá-la. A pergunta fundamental aqui é sobre o caráter específico de uma construção ideológica mediada pelos novos padrões de ação em uma sociedade cada vez mais burocrática. Postone recusa as explicações correntes na tradição marxista, que tratam o Nacional-Socialismo, em última análise, como um instrumento da burguesia alemã contra as organizações operárias. Escapa inteiramente a essa abordagem o caráter central do antissemitismo para a ideologia nacional-socialista. E por isso ela não explica de modo adequado o programa fetichista de aniquilação levado a cabo pelo III Reich, que foi um momento essencial da guerra, ainda que não possuísse nenhum objetivo estratégico.[43] Não basta, porém, atribuir o projeto de extermínio dos judeus ao simples preconceito antissemita. Também aqui está ausente uma explicação que dê conta da especificidade do Holocausto. A resposta de Postone é que o caráter de “fim em si mesmo” do extermínio pode ser explicado apenas no contexto da revolta anticapitalista orientada para a “destruição do abstrato”.[44] Em seu delírio anticapitalista truncado, distorcido, os nazistas manifestavam ao mesmo tempo uma aversão ao “abstrato” e idealizavam de modo positivo o “concreto”. Essa dimensão concreta foi vista – na tradição da crítica romântica – como parte de uma ordem natural, biológica, enraizada organicamente na “comunidade”, em uma linha de continuidade que começava no trabalho artesanal e terminava na indústria moderna. Os judeus, de modo inverso, representavam o desenraizamento, o parasitismo e a degeneração desse estado natural e comunitário “saudável”. Eles foram associados ainda a outra dimensão capitalista: a condição de cidadão abstrato definido a partir da esfera político-estatal, que figura ao lado do dinheiro como uma abstração de segunda ordem. A condição do homem como abstração foi “superada” de modo regressivo, apelando-se à comunidade étnica.[45] Por isso, ela tinha de ser vinculada a uma noção pseudo-concreta, que produziria a “superação” da cidadania abstrata na reconciliação do povo com o Estado em uma base racial (völkisch).[46]
Uma vez que a base do antissemitismo era estabelecida não mais em termos cultural-religiosos, mas por critérios raciais, esse fato ajudou a modificar radicalmente a situação dos judeus na Alemanha. Já não era possível nenhuma integração ou assimilação, tal como ainda se debatia nos estados da Confederação Germânica em meados do século XIX. Havia, porém, outra distinção entre o ódio imediato aos judeus nos pogroms do passado e o massacre sistemático perpetrado pelos nazistas: é que esse ódio passou a ser socialmente mediado por um objetivo ideológico bem determinado. Os judeus eram a força corrosiva que destruía a sociedade e a cultura a partir de dentro e, ao mesmo tempo, estavam por trás de todas as ameaças internacionais. Isso explica o programa de extermínio realizado pelo Nacional-Socialismo, que o distingue fundamentalmente das outras formas de racismo. Os nazistas estavam imbuídos de um sentimento de missão que consistia em livrar o mundo da “fonte de todo o mal”. Foi apenas nesse contexto específico que “a superação do capitalismo e dos seus efeitos sociais negativos foi associada à superação dos judeus”.[47] Auschwitz, conclui Postone, foi “uma fábrica para ‘destruir o valor’, isto é, para destruir as personificações do abstrato”.[48]
[1] Bruno Bauer: »Die Judenfrage«. Braunschweig, 1843.
[2] Karl Löwith, De Hegel a Nietzsche. A ruptura revolucionária no pensamento do século XIX. São Paulo, Unesp, 2014, p. 393.
[3] Nikolai Lápine, O jovem Marx, Editorial Caminho, Lisboa, 1983, p. 203.
[4] Ibidem.
[5] Karl Marx, Sobre a questão judaica, São Paulo, Boitempo, 2010, p. 38.
[6] Karl Marx, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 145.
[7] “O juízo conclusivo de Ruge do ano de 1846 é idêntico ao de Marx e Stirner: Bauer é o último teólogo, um herético total, que perseguiu a teologia com fanatismo teológico, e, justamente por isso, não se livrou da fé que ele combate”. Karl Löwith, op.cit. p. 392.
[8] Karl Marx, Ibidem , p. 151.
[9] Karl Marx, Sobre a questão judaica, p. 48.
[10] Ibidem, p. 38.
[11] Ibidem, p. 54.
[12] Ibidem, p. 41.
[13] Ibidem, p. 46.
[14] Ibidem, p. 53.
[15] Ibidem, p. 54.
[16] Como se sabe, Marx provém de uma família judaica; seu pai era um judeu que se convertera ao protestantismo sob a pressão das restrições profissionais impostas aos judeus. A linguagem adotada por Marx nos anos 1840 pode ser entendida como fruto da pressão da intelligentsia antissemita alemã de então, “que levou os judeus a atitudes de autonegação e autodestruição”, ainda que não se possa falar em um “antissemitismo judeu”, porque isso significa “confundir o perpetrador com a vítima (mesmo a nível linguístico e cultural)” Robert Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus.Ein Abgesang auf die Marktwirtschaftp. Eichborn Verlag AG, Frankfurt am Main, 1999, p. 179.
[17] Ibidem, p. 56.
[18] Idem. Na edição brasileira que utilizamos aqui, a palavra Schacher é traduzida como “negócio”, um termo bem mais neutro e sem a conotação que Marx pretendia atribuir ao judaísmo.
[19] Ibidem, p. 58.
[20] David McLellan, Karl Marx, vida e pensamento. Petrópolis, RJ, Vozes, 1990, p. 99.
[21] Francis Wheen, Karl Marx. Rio de Janeiro, Record, 2001, p.. 58
[22] Gareth Stedman Jones, Karl Marx: grandeza e ilusão. São Paulo, Companhia das letras, 2017, p.. 187.
[23] Ibidem, p. 189.
[24] Esse sentimento anti-judaico generalizado no pensamento de Proudhon foi abordado por Frédéric Krier no livro Sozialismus für Kleinbürger. Pierre Joseph Proudhon – Wegbereiter des Dritten Reiches. Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag 2009.
[25] “Na e pela história”. Reflexões acerca de Sobre a questão judaica, In: Karl Marx. Sobre a questão judaica. São Paulo: Boitempo, 2010. pág. 97.
[26] Ibidem, p. 57.
[27] Idem, p. 57.
[28] [28] Franz Neumann, Behemoth. Pensamiento y ación em el nacional-socialismo, Fondo de cultura económica, Madrid, 1983, p. 358.
[29] Ibidem, p. 359.
[30] Max Horkheimer, “Die Juden und Europa”, Zeitschrif für Sozialforschung VII (1939), pp. 1-49.
[31] O ensaio foi publicado pela primeira vez em Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken. H. 1/1982, com o título Die Logik des Antisemitismus. Uma segunda versão, ampliada, apareceu em inglês com o título Anti-Semitism and National Socialism, em A. Rabinbach and J. Zipes (eds.), Germans and Jews Since the Holocaust, New York: Holmes and Meier, 1986.
[32] Moishe Postone, Necessity, Labor, and Time: A Reinterpretation of the Marxian Critique of Capitalism, Social Research, 45:4 (1978: Winter) p.739.
[33] Moishe Postone, Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory. New York and Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
[34] “Essa abordagem redefine a questão da relação entre cultura e vida material em termos da relação entre uma forma historicamente especifica de mediação social e formas de ‘objetividade’ e ‘subjetividade’ sociais. Como uma teoria da mediação social, ela e um esforço para superar a dicotomia teórica clássica entre sujeito e objeto, enquanto explica historicamente essa dicotomia”., Ibidem, p. 5.
[35] Os primeiros textos de Postone sobre a questão judaica e o antissemitismo foram publicados em 1980, nos dois números especiais da revista New German Critique com o tema Germans and Jews. No número 19, aparece o comentário Anti-Semitism and National Socialism: notes on the German reaction to “Holocaust”, sobre a reação à série de TV Holocausto, no qual Postone identifica uma importante mudança de atitude do público em relação à compreensão do Holocausto como algo diferente de uma simples perseguição racial e política. O número 20 de New German Critique traz a resenha do livro Fremd im eigenen Land [Estrangeiros no próprio país], que reúne relatos e comentários sobre os dilemas da comunidade judaica na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial.
[36] Isso implica, de acordo com Postone, não considerar a produção no capitalismo como um processo de trabalho controlado apenas externamente pela classe capitalista, como se bastasse eliminar a propriedade privada para que a produção como tal seja usada em benefício de todos. Essa interpretação, corrente no marxismo tradicional, supõe erroneamente a dimensão concreta da produção [e do trabalho] como um fato natural, ontológico, que teria apenas de se libertar do que é identificado como não pertencente a essa dimensão – no caso do marxismo, o interesse de classe dos proprietários, considerado exclusivamente como a dimensão “capitalista”. Moishe Postone, Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory, cit.
[37] Moishe Postone, Antissemitismo e nacional-socialismo, p. 39, neste volume.
[38]Ibidem , p. 36.
[39] Ibidem, p. 33.
[40] Ibidem.
[41] Ibidem, p.39, neste volume.
[42] Ibidem, p. 45, neste volume.
[43] Sabe-se, por exemplo, que mesmo com a guerra praticamente acabada, quando já não havia qualquer esperança de uma vitória alemã, oficiais nazistas prosseguiam sem trégua a sua guerra contra os judeus.
[44] Ao definir o antissemitismo como a base da visão de mundo dos nazistas, Postone se opõe à tese defendida por Hannah Arendt de que o extermínio em massa teria sido apenas “executado” de modo burocrático e impessoal por “pessoas comuns” – também burocratas – motivadas pelo senso de dever ou pela mera obediência a uma estrutura hierárquica. Ainda que as ordens tenham sido executadas como uma missão burocrática por parte de funcionários do governo ou do partido, a “Solução Final”, como Postone argumenta, não seria possível sem o papel central do antissemitismo exterminador. Essa importância decisiva da ideologia – e com ela a própria especificidade do Holocausto – é subestimada por Arendt quando ela busca uma explicação geral para os crimes do nazismo como parte de sua teoria do totalitarismo: “… ao concentrar-se no aparato dos ‘executores’, Arendt [acredita] que está destacando aqueles aspectos do totalitarismo que não são exclusivos do nazismo e que devem ser enfatizados para que os dilemas políticos, morais e legais levantados pelos regimes totalitários sejam enfrentados de modo efetivo. No entanto, essa estratégia tem um preço: ela tende a dissolver a especificidade do Holocausto e, implicitamente, está baseada em uma interpretação completamente inadequada da ideologia antissemita”. Moishe Postone, Considerações sobre a história judaica como história geral. Eichmann em Jerusalém de Hannah Arendt, p. 163, neste volume.
[45] Como lembra Ernst Lohoff, “Quando os nacional-socialistas denunciaram em uníssono a República de Weimar e os partidos adversários como ‘judeus’, isso indicava mais do que um uso inflacionado do seu rótulo predileto”, pois também a noção abstrata de cidadania era desconfortável para o anticapitalismo “pequeno-burguês”. Ernst Lohoff, Geldkritik und Antisemitismus, in: https://www.krisis.org/1998/geldkritik-und-antisemitismus/.
[46] A partir da compreensão do papel da identificação do judeu com o capitalismo na ideologia propagada pelos nazistas também é possível desmistificar o seu “anticapitalismo” como uma versão mais abrangente do antissemitismo. Este não é um aspecto secundário das formulações do Nacional-Socialismo, mas o seu núcleo ideológico. Ele compartilhava com outras ideologias políticas modernas dos anos 1920-30 uma crítica do capitalismo liberal, mas não pretendia nem era capaz de formular uma crítica das formas capitalistas de produção. Seu “anticapitalismo” preocupava-se mais com a criação de uma identidade nacional homogênea em termos raciais do que com problemas socioeconômicos, como o planejamento da produção, à maneira de ideologias modernizadoras rivais, que também possuíam um conceito limitado de capitalismo.
[47] Moishe Postone, Antissemitismo e nacional-socialismo, cit., p, 46.
[48]Ibidem, p. 49.









